| “A trajetória de Paulo Dantas,
inicialmente identificada à geração de
45, assinala um movimento de retorno
ao chão natal, fundindo o sentimento
de inadaptação interior com o cenário
de danação e agonia do Nordeste” |
|
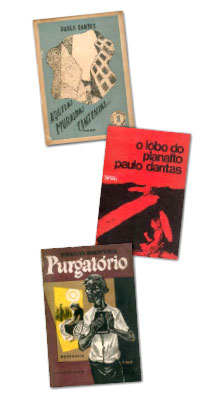
|
|
|

|
Os sertões de Paulo Dantas
Nascido em Simão Dias, Sergipe, em 1922, Paulo Dantas
viveu na Bahia até se radicar no Rio de Janeiro (onde
trabalhou na editora Civilização Brasileira) e depois em
São Paulo, cidade na qual morreu em agosto de 2007.
Autor de vários estudos sobre Euclides da Cunha (dentre
eles Euclides: Opus 66, por ocasião do centenário de
nascimento do criador de Os Sertões), também dedicou
trabalhos a Monteiro Lobato e Guimarães Rosa. Dentre
seus mais de 30 livros, destacam-se obras de ficção
como Sertão Desaparecido (sobre o cangaço), O Lobo do
Planalto (sobre suas experiências em Brasília), Aquelas
Muralhas Cinzentas..., Cidade Enferma e a trilogia nordestina
composta por Chão de Infância, Purgatório e O
Livro de Daniel. O ensaio de J. Guinsburg aqui publicado
foi reproduzido do livro Motivos (Comissão Estadual
de Literatura de São Paulo, 1964), tendo sido escrito
originalmente por ocasião do lançamento dos dois primeiros
títulos da trilogia. O volume inclui ainda uma
resenha de 1958 sobre O Capitão Jagunço, romance de
Paulo Dantas que tem como protagonista um sobrevivente da guerra de Canudos.
|
|
|
Leia a seguir ensaio sobre o romancista Paulo Dantas, que morreu no
ano passado, escrito originalmente pelo crítico J. Guinsburg em 1956
O NORDESTE, UM TEMA INESGOTADO
O Nordeste é um braseiro ardendo na consciência
nacional. O seu sofrimento e o seu protesto
marcam profundamente a moderna literatura
brasileira, condicionando a obra de alguns dos
mais lídimos expoentes desta etapa em que os nossos escritores,
após as revoluções políticas e culturais que alteraram
a fisionomia do mundo e derrubaram velhas concepções
e cânones, despertaram para a realidade de seu país e
procuraram integrar sua contribuição no processo de autoconsciência
nacional. Evidentemente, nesta fase em que
se abandonam o verbalismo dos salões e as facilidades das
capitais, quando se deseja estabelecer a literatura no chão
de vastas áreas geográficas e humanas relegadas ao esquecimento
e transformá-la em expressão, senão em brado,
dos problemas e das condições, uma região tão típica como
o Nordeste, lastrada com um quadro de berrantes contradições
e desníveis, com uma complexa estrutura onde se
chocam, inconciliáveis e inconclusos, processos e padrões
que se acumulam há quatro séculos, deveria constituir-se
naturalmente em tema.
Assim, seu solo calcinado fixou, por exemplo, a prosa
áspera e incisiva de um Graciliano Ramos, cujas Vidas Secas
formam não só o ponto alto de um ciclo que ostenta os
nomes de Jorge Amado, José Lins do Rego, Amando Fontes,
Jorge de Lima, José Américo, Rachel de Queiroz e outros,
mas também do tema nordestino considerado em seu
conjunto, isto é, despido de suas variantes locais e reduzido
à sua essência artística e social.
Entretanto, e devemos reconhecê-lo, esta obra-prima de
análise social e psicológica, este grito de revolta contra uma
ordem de coisas que completa impiedosamente a ação cataclísmica
da natureza e resseca no ser humano a própria
condição de homem, por mais amplo que seja o seu âmbito,
por mais realizada que esteja do ponto de vista estético, por
mais justo que seja seu enquadramento dos fatores objetivos
e subjetivos, representa um ponto de partida e nunca o
de chegada. Por seu intermédio e das demais criações deste
ciclo, o Nordeste, como tema literário, adquiriu forma estética
palpável, concreta, expôs seus lineamentos, mas não
se esgotou, mesmo porque seria impossível que isso acontecesse
num único momento histórico e na perspectiva de
uma só fase, apesar das diferenças de temperamento, estilo
e tendência de seus vários representantes. Assim, ainda que
o próprio desenvolvimento não criasse novas motivações
(por exemplo, o impacto de Paulo Afonso no panorama social
da região, o pronunciamento dos traços cosmopolitas e
universais do Recife – é o caso de Osman Lins – ao lado da
vasta área de um vivíssimo localismo sertanejo etc.), restaria
a necessidade do aprofundamento e captação de aspectos
importantes à fisionomia e interpretação do Nordeste.
Por isso não cremos que se possa falar em exaustão do
tema, embora alguns críticos o considerem definitivamente
ultrapassado. Sem dúvida, o grupo exponencial do assim
chamado “ciclo nordestino” já transpôs o seu auge, ao menos
como conjunto. Mas, enquanto não se verificar uma
transformação radical na estrutura do Nordeste, enquanto
o seu drama persistir como um espetáculo periódico de
secas, retirantes, paus-de-arara etc., eletrizado, além disso,
por uma tremenda carga de um passado econômico, político
e psicológico que avulta na derrocada de suas formas
de vida e de um presente que acresce novas contradições à
sociedade em que atua sem haver resolvido as velhas, enquanto
tudo isso subsistir não acreditamos que esteja ressecado
o humo nutridor de uma literatura específica da região.
E, de fato, sem falarmos nas perspectivas do romance
de fundo urbano, social ou psicológico, os próprios temas típicos
apresentam ricos filões – o cangaceiro, o beato, o místico
etc., até agora quase inexplorados. As poucas tentativas
feitas nestes domínios: Calunga de Jorge de Lima (romance
escrito há duas décadas e que é, nalguns aspectos ora analisados,
uma obra precursora), os Cangaceiros e Pedra Bonita
de José Lins do Rego, a Assunção de Salviano de Antônio
Callado e Chão de Infância e Purgatório de Paulo Dantas indicam
realmente novas possibilidades para o romance nordestino
e um desenvolvimento da etapa anterior, já que por
enquanto não ousaríamos falar em renovação.
Neste sentido, parece-nos particularmente interessante
a contribuição de Paulo Dantas, por se tratar de um escritor
jovem, cujos livros até bem pouco seguiam, na sua temática
e na sua atitude perante o mundo, o caminho do que chamaríamos
a geração de 45, mas que de repente redescobriu
o seu chão natal, dedicando-lhe uma trilogia que já se encontra
em seu segundo volume e que constitui um retorno
à região, mas por um roteiro e com uma visão inteiramente
novos.
EM BUSCA DE CHÃO
A evolução literária que conduziu Paulo Dantas de Aquelas
Muralhas Cinzentas... até o Purgatório é, antes de mais
nada, a história de um jovem talento que, desgarrado de seu
chão, lançado na solidão urbana, no desespero da fome e
no delírio da tuberculose, descobre não só o mundo dos párias
da sorte, dos enfermos e humilhados, dos injustiçados
e oprimidos, mas também o seu próprio insulamento numa
sociedade que o aceita para rejeitá-lo e, ao mesmo tempo,
a sua incapacidade de identificar-se com qualquer categoria,
apesar de desejá-lo ardentemente. Assim, instado por
uma crescente sensação de não pertinência, por uma consciência
cada vez maior de sua condição e das cadeias que
prendem o homem, mas incapaz de transformá-la em revolta
ativa, em grito de convocação, pois não mais possui
uma raiz que vitalize o protesto reivindicador, reflui cada
vez mais sobre si próprio, na busca de um ponto de apoio,
de um fator de continuidade, de uma base de estabilidade,
até que atinge, no fundo de seu ser, a distante região biográfica
onde todas as incertezas, angústias e fugas do presente
se convertem na segurança inquestionável de um passado,
inquestionável porque é passado, na transfiguração idealizada,
onírica, dos anos de infância, na firme terra subjetiva
da lembrança.
Até aí nada de novo, apesar das peculiaridades pessoais.
Trata-se de um caminho batido que corresponde perfeitamente
a certos aspectos da vida numa época de transição, quando o indivíduo desintegrado de uma sociedade
atomizada encontra em si mesmo os únicos valores que lhe
parecem dignos de confiança. Daí, inclusive, o psicologismo,
a introspecção, o subjetivismo exaustivo, acompanhado
por vezes de um formalismo estético, que caracterizam
a literatura contemporânea em muitas de suas manifestações.
E mesmo no Brasil a chamada geração de 45, cujas origens
teremos de procurar talvez, e novamente, em Graciliano
Ramos, no dualismo de sua obra, onde Vidas Secas e São
Bernardo figuram ao lado de Angústia e Insônia, encontrou
um denominador comum neste internamento, nem sempre
sincero e feliz, nas “regiões profundas” onde “tudo é lei”, segundo
a sentença de Rainer Maria Rilke que constitui a epígrafe
de Cidade Enferma. Mas com Paulo Dantas sucedeu
que, ao se achar no próprio imo desta esfera de auto-análise,
o mesmo impulso que o levara para lá, o desajustamento
exacerbado pela sensibilidade quase neurótica, acionou o
mecanismo de retorno para o mundo exterior. Ao invés de
ficar remoendo a sua inadaptação, fundiu-a com a marginalidade
de uma região, o Nordeste. Assim, através deste salto
singular – impulsionado talvez por um sensualismo que
encontrou na terra o humo renovador e na figura de Daniel
o seu fruto aberrante mas significativo, talvez pelo choque
do reencontro com a paisagem perdida, talvez pela ansiedade
de sua busca de chão – o escritor em questão tomou
pé num solo que lhe faltava. A princípio hesita, é claro. Não
sabe se se trata apenas de um eu recuado na distância lírica
(Chão de Infância) ou se de fato tateia, ainda confuso, com
muita literatura, os contornos de algo concreto e objetivo – a
sua cidade, a sua gente, a sua região. Mas, logo, neste mesmo
livro, apercebe-se que não lida com fiapos de recordações,
com transferências alucinadas feitas na solidão, mas
com uma realidade machucada, estigmatizada, sofredora e
angustiada, mas uma realidade e não um simples fantasma
da memória. É a sua terra, a sua família.
NA SENDA DO PURGATÓRIO
O reencontro do escritor com a terra deu à sua literatura,
como já dissemos, o chão pelo qual sempre ansiara em seu
desvinculamento urbano. Entretanto, e aí aparece uma importante
diferença em relação ao grupo nordestino da geração
anterior, trata-se de um romancista que regressa à região
e não de um que parte dela. Esta surge-lhe, em primeiro
lugar, como um espetáculo ao qual ele, autor, se liga por
alguns traços mas com o qual não forma unidade orgânica.
Em certo sentido é apenas um espectador: vibrátil, sensível,
sequioso, mas subjetivamente desintegrado e reduzido
à posição de mero espectador. Contudo, a esta passividade
contemplativa, ao êxtase visual da redescoberta, logo sucede
o processo de reconhecimento da realidade, por cujo intermédio
não só efetua o levantamento deste novo espaço
social e espiritual, mas também estabelece contato com os
elementos mais afins à sua personalidade, o que lhe possibilita,
na atividade criadora, o trabalho de identificação artística.
Em Paulo Dantas, este é um fator valioso para a compreensão
dos caminhos de seu retorno à terra. Pois, se o primeiro
processo revela-lhe um cenário de derrocada e miséria,
de abandono e atraso, de ignorância e resignação, só o
segundo lhe permite integrar-se – ao contrário dos que, pelo
crescimento orgânico, tinham suas raízes firmes naquele
solo – nestas realidades sociais onde lateja o verdadeiro
Nordeste, fundir as suas angústias de marginal da grande
cidade com a decadência de sua família sertaneja e com o
simbolismo dostoievskiano que tal fato adquire nalguns de
seus tipos mais marcantes, convertendo a visão estrangeira
de um citadino, não em turismo literário, como sói acontecer,
mas na autêntica e sentida participação no sofrimento
de alguns indivíduos que representam, ou começam a representar,
todo um grupo humano e quiçá urna sociedade.
A singularidade desta trajetória determina, a nosso ver,
boa parte das qualidades e defeitos de o Purgatório. Pois,
partindo principalmente da identificação e da experiência
interior como forma de penetração do mundo nordestino
de que se encontra separado por todas uma evolução pessoal
e intelectual, entrega-se aos elementos de seu tema que
lhe falam mais diretamente e faz da vivência o motor de sua
obra. Busca por toda a parte o delírio, o impacto emocional
capaz de lhe proporcionar, sinteticamente, sem maior
esforço racional e crítico, o conhecimento das almas e do
meio-ambiente e de assegurar, assim, a autenticidade de
seu regresso, ou seja, de sua criação (pois, em última análise,
para o escritor não há regresso...). Assim, só o sentido
e vivido têm direito de expressão. Isto explica a sua atitude
em face das condições que cercam suas personagens.
Contenta-se em sugeri-las ou esboçá-las quando estas se
lhe impõem, mas sem qualquer aprofundamento, sem um
esforço mais prolongado no sentido de estabelecer suas
causas e relações, em suma, seus enquadramentos funcionais.
Tal fato não só impede a reconstrução romanesca mais
apurada, abrindo muitos claros na estrutura da obra, como
também elimina, desde logo, o protesto e a reivindicação, a
não ser por contragolpe subjetivo do próprio leitor. Por outro
lado, permite-lhe chegar imediatamente aos estados em
que a alma atinge o ápice de intensidade e, numa espécie
de ascese literária, fixá-los na inteireza obsessiva e mística
de penitentes, de loucos e torturados que vivem neste mundo
o inferno do além, que expiam uma falta coletiva: o pecado
da carne.
O sentimento dominante em Purgatório é o de culpa. É
um drama de perdição e resgate, onde uma sociedade em
decomposição exibe suas pústulas e chafurda na lama da irracionalidade,
mas ao mesmo tempo procura o caminho da
redenção, disposta a pagar, no seu desespero e na sua agonia,
o preço da renovação, mesmo que seja o da absoluta
alienação. Daí por que só os culpados com consciência de
culpa subsistem como personagens inteiramente realizadas.
Os demais debilitam-se e volatilizam-se qual fantasmas
abandonados pela emotividade do autor. É o caso de Rosto
Bonito, de Jeremias, de Jovem e Conceição, dos irmãos de
Daniel e do próprio Daniel enquanto não atinge a sua predestinação
Em alguns, é preciso dizer, há um esforço de sustentação,
pois são peças necessárias ao desenrolar da história.
Mas quão esquálidas se apresentam ante as figuras poderosas,
marcadas pelo fogo bíblico do castigo, de um Resmungo,
de uma Sensitiva (a testemunha causticante do pecado),
de um Teosóforo, de um Belmiro Evangelista, de um
Hortalino (a anunciação de Daniel). Neles, gigantes do sofrimento
e da penitência, Dantas infunde toda a sua potência
criadora e, com o alento abrasador destas criaturas, consegue
– apesar do desequilíbrio apontado – vivificar uma obra
apaixonante, onde pulsa um profundo amor pelo Nordeste.
Como vemos, a sinceridade e a pureza do romancista cimentam
a sua criação, aparam as suas faltas estilísticas e arquitetônicas
e, o que é mais importante, arrastam-no para
fora de sua dimensão individual, levando-o, talvez a despeito
dele próprio, para a esfera coletiva. Purgatório transforma-
se, assim, não apenas na purgação noturna de um eu
narrador e no relato expiatório de uma decadência, mas no
documento autêntico e humano de uma região em que medram
tipos e dramas desta ordem.
J. GUINSBURG é professor de Teoria do Teatro na ECA-USP, crítico
literário, autor de numerosos estudos sobre cultura ídiche e sobre
teatro. Editor da Perspectiva, uma das mais importantes editoras
do país, é também ficcionista, autor do volume de contos O que aconteceu, aconteceu (Ateliê Editorial).
|