Épicos – volume que marca milésimo título no catálogo da Edusp – inclui
Prosopopéia, O Uraguai, Caramuru, Vila Rica, A Confederação dos
Tamoios e I-Juca-Pirama inaugura a coleção “Multiclássicos”, organizada
por Ivan Teixeira, e ilumina a tradição da poesia épica no Brasil. |
| |
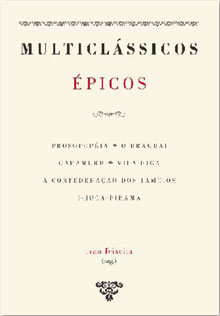
|
|
Épicos – Coleção Multiclássicos – vol. 1
Organização e apresentação de Ivan Teixeira
Notas sobre o Gênero Épico por
João Adolfo Hansen
Prosopopéia
Bento Teixeira
Ensaio introdutório de Marcello Moreira
O Uraguai
Basílio da Gama
Ensaio introdutório de Ivan Teixeira
Caramuru
Santa Rita Durão
Ensaio introdutório de Berty R. R. Biron
Vila Rica
Cláudio Manuel da Costa
Ensaio introdutório de Eliana Scotti Muzzi
A Confederação dos Tamoios
Gonçalves de Magalhães
Ensaio introdutório João Adalberto Campato Jr.
I-Juca-Pirama
Gonçalves Dias
Ensaio introdutório de Paulo Franchetti
Edusp/Imprensa Oficial – 1224 págs. – R$ 120
| |
|
 |
|
|
“Clássicos são aqueles livros que quanto
mais pensamos conhecer por ouvir dizer,
mais se revelam novos, inesperados
e inéditos, quando são lidos de fato.” A
definição, fornecida por Italo Calvino, ocorre-nos depois
da leitura de Épicos, que é o primeiro volume – organizado
por Ivan Teixeira – e inaugura a coleção “Multiclássicos”,
lançada pela Edusp (o segundo volume será Naturalistas).
Calvino ainda adverte que as tais revelações só ocorrem
quando encontram o leitor certo. E acrescentaríamos: ...e
também quando o leitor encontra os livros. O acréscimo parece
banal, mas necessário, pois o acesso aos clássicos brasileiros,
previstos na coleção, ainda é difícil: as poucas edições
deixam a desejar, algumas só aparecem para cumprir
tabela daquelas leituras obrigatórias nos vestibulares, mas
sobretudo estão sempre isoladas, incentivando quase que
compulsoriamente uma leitura mais vertical.
A edição de Prosopopéia, de Bento Teixeira, O Uraguai,
de Basílio da Gama, Caramuru, de Santa Rita Durão, Vila
Rica, de Cláudio Manuel da Costa, A Confederação dos Tamoios,
de Gonçalves de Magalhães, e I-Juca-Pirama, de
Gonçalves Dias, reunidos num só volume, com atualizadas
apresentações e notas pertinentes, permite aquela leitura
mais horizontal que acalma nossa natural ansiedade por
uma visão comparativa deste momento crucial, que se estende
de 1601 a 1856, e que corresponde, por assim dizer, ao
amanhecer poético do país.
Mas é melhor não procurar pelo paradigma épico brasileiro,
sobretudo numa cultura na qual a ética de fundo emotivo
sempre vence a razão pública e onde não há regras que
resistam à forte arrancada de uma imagem musical e rítmir ca. E isto mesmo se pensarmos num paradigma luso-brasileiro
já que, exageros à parte, Capistrano tinha razão quando
dizia que “o Brasil não passava de um Portugal ampliado
e rarefeito”. Mas, mesmo naquela América portuguesa,
seria possível o épico como afirmação de valores abertamente
fundados na intensidade de uma emoção, despida
de quaisquer laços com a realidade objetiva?
Outra razão mais forte para diminuição de expectativas é
que o gênero épico virou um gênero morto – e, hoje, quaisquer
formas de heroísmo prestam-se à irrisão ou tornamse
duramente inverossímeis, sobretudo porque o dinheiro
transformou-se no equivalente universal de todos os valores.
Vale, entretanto, para os apreciadores do gênero, uma
leitura arqueológica ou prospectiva, como o faz João Adolfo
Hansen, no ensaio que abre o volume, reconstituindo
brilhantemente os preceitos da doutrina épica vigentes na
época de invenção dos poemas.
O bom é que, num único volume, o leitor também poderá
exercer seu direito natural de livre leitura, começando por
onde quiser, detendo-se em trechos favoritos, abandonando
os que os desgostam, enfim, utilizando-se daquilo que a
poesia tem de mais sublime, que é o dom de mexer e remexer
em nossa forma de ver o mundo, começando por mudar
as palavras através das quais o vemos. E as leituras alternativas,
sugeridas ou indicadas pelos importantes ensaios que
introduzem os poemas, se desdobram infinitamente.
O Uraguai, com sua estrutura híbrida, defendendo o absolutismo
pombalino e, ao mesmo tempo, satirizando o domínio
supostamente iníquo dos jesuítas sobre os índios,
também pode ser lido – em paralelo a La Henriade, de Voltaire
– como denúncia dos efeitos deletérios decorrentes do mau uso da religião. Embora a paixão de Diogo Álvares por
Paraguaçu e o sacrifício amoroso de Moema – no célebre Caramuru
– tenha se transmutado até em enredo de escola de
samba, os estereótipos não resistem a uma filtragem da enorme
violência contida no longo poema: e só conferir. Já o Vila
Rica, de Cláudio Manuel da Costa, tantas vezes censurado e
deformado desde sua publicação original por copistas e outras
dezenas de adulterações, reaparece em edição integral.
Cenários hiperbolicamente artificiosos, cheios de europeus
besuntados de urucum e indígenas usando tamanha
profusão de metáforas, que, como dizia Agripino Grieco,
bem que poderiam ensinar português em Portugal! Eis
a tradição, não inteiramente injusta, mas bem próxima do
ridículo, que cresceu ao redor da leitura de A Confederação
dos Tamoios – poema que já nasceu, por assim dizer, com
suscetível vocação para ser parodiado. Mas até mesmo para
uma renovada e criativa leitura paródica não valeria a pena
conhecê-lo integralmente?
Noutra chave, também vale a releitura do célebre I-Juca-
Pirama, sobretudo, porque nos permite vislumbrar – como
sugere o incisivo ensaio introdutório de Paulo Franchetti –
o único elemento forte de história real contida no indianismo:
a infalível certeza de extinção dos índios por conta da
chegada do invasor branco.
Walter Benjamin relacionou a decadência da arte de contar
histórias com o desaparecimento do lado épico da verdade.
É certo que ele falava de outros épicos, de outros tempos
e outros lugares. Seja como for, esta coletânea torna-se
leitura imprescindível para responder ao que Ivan Teixeira
designa como verdadeira “obsessão da literatura brasileira
em compor a epopéia nacional”.
Mas os épicos brasileiros disparam para todos os lados:
inauguram tanto aquela sintaxe silenciosa da imaginação
nacional como também aquele desprezo cego pela realidade
objetiva do país. Ou se engalanam de lantejoulas rimadas ou
se perdem, exprimindo o drama de consciências sem projeto,
mal resolvidas e hesitantes, privadas de quaisquer ações
livres, dependendo de impulsos alheios, proibidas de futuro.
Como sugeriu certa vez Mário de Andrade ao falar sobre
o tema do exílio: os românticos queriam voltar ao berço edênico
ou ao nada originário; os modernistas queriam partir,
evadindo-se da vida presente em direção a uma Pasárgada
sem retorno. Neste caso, os épicos também não queriam ficar,
mas obrigam-se a isto, pelas próprias regras de composição
do gênero que os impulsionam a cantar apenas feitos
que realmente ocorreram. Mas se ninguém quer ficar e encarar
de frente o drama da história, o que resta? Provavelmente
resta apenas uma unidade obstinada de sentimento,
uma ética que encurta distâncias sociais, uma afetividade
que não precisa de qualificativos – um Brasil brasileiro.
Elias Thomé Saliba é professor do Departamento de História
da USP e autor, entre outros livros, de Raízes do Riso (Companhia
das Letras) e As Utopias Românticas (Estação Liberdade).
|